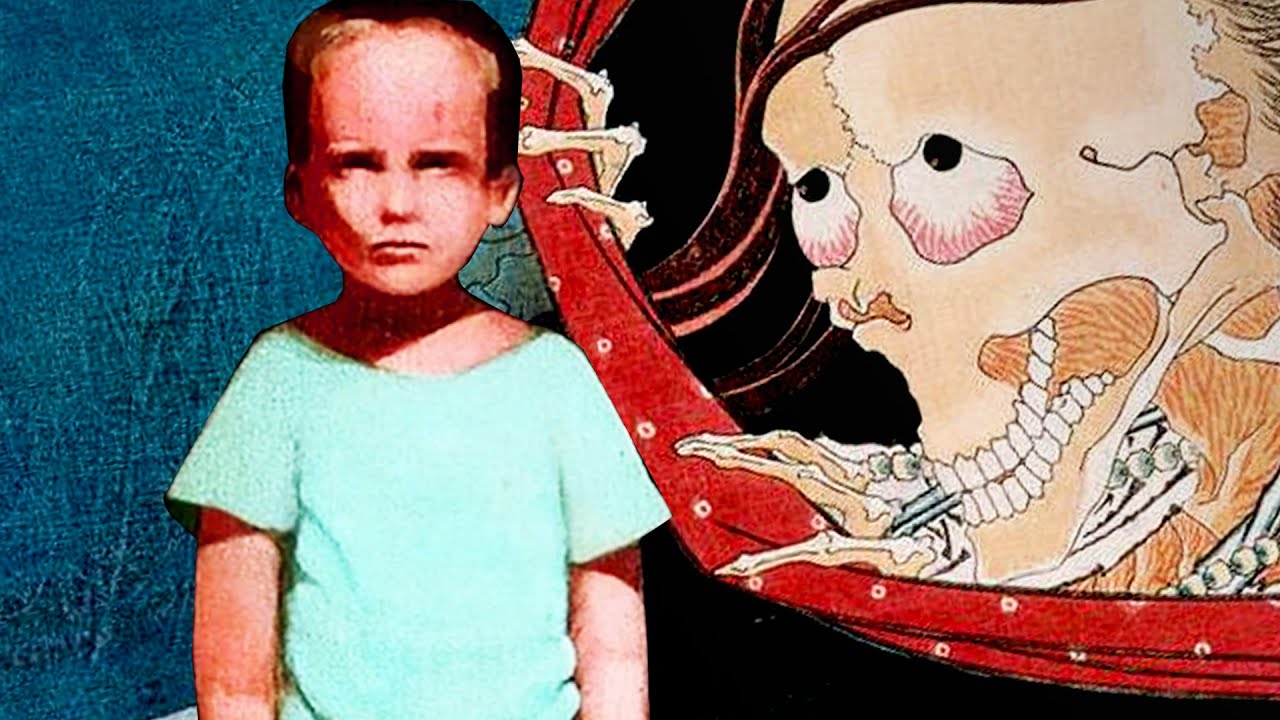EX BRAÇO-DIREIRO REVELA OS HORRORES QUE VIVEU DENTRO DO PCC
0Eu já tinha ouvido falar do PCC desde moleque. Nas quebradas, o nome era como um trovão. Todo mundo sabia, mas ninguém ousava falar muito. O que eu nunca imaginei era que um dia eu estaria ali no olho do furacão, vivendo e respirando o crime como se fosse a única forma de sobreviver. Naquele tempo, minha vida estava um caos. Meu pequeno negócio de peças de moto tinha falido, minha mulher tinha me deixado e as contas se empilhavam na mesa da cozinha como se quisessem me sufocar. Eu passava os dias andando de um lado pro outro, procurando algum trampo que me tirasse daquele buraco. Mas a cada porta que eu batia, a resposta era sempre a mesma: “Não dá. Já tá preenchido. Deixa seu currículo aí.” “Currículo?” Eu ria por dentro. Quem é que queria um cara que só sabia mexer com motor e que tinha o nome sujo no SPC? Foi nessa fase que conheci o Leandro. Eu já tinha visto ele algumas vezes no bairro, sempre bem vestido, com um sorriso confiante e o celular tocando sem parar. Ele me chamou para tomar uma cerveja num barzinho. No meio da conversa, soltou. Sei que você tá na pior e sei que você não é de ficar de braço cruzado. Tem um trampo que pode te colocar no jogo de novo. Naquele momento, minha cabeça deu um giro. Eu sabia o que ele queria dizer. Trampo ali não era coisa de assinar carteira, mas a forma como ele falou, com aquele ar de quem tinha tudo sob controle, me fez pensar: “E se for a única chance? Será que eu ia aguentar continuar vivendo como um ninguém, comendo arroz puro e contando moeda para pegar ônibus?” Nos dias seguintes, ele começou a me apresentar algumas pessoas. Gente que falava baixo, olhava nos olhos sem medo, principalmente parecia respeitar o Leandro. Uma dessas pessoas foi o doutor. Ninguém chamava ele pelo nome verdadeiro. Era um cara alto, pele morena, sempre com um terno impecável, mesmo no calor. Ele não falou muito comigo naquela primeira vez, só me mediu com o olhar e disse: “Aqui é lealdade ou morte? Decide se você quer entrar no barco. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Lealdade ou morte? Eu sabia que se entrasse não teria volta, mas de alguma forma eu já estava meio dentro. O PCC não te pergunta se você quer brincar. Ele te envolve, te seduz, te dá um prato de comida quando você tá com fome e depois cobra com juros que você nunca vai poder pagar. A minha primeira tarefa foi simples, pelo menos no papel, entregar um envelope para um cara numa borracharia de madrugada. Fácil, certo? Só que no caminho eu percebi que estava sendo seguido. Um carro preto, vidros escuros, minhas mãos suavam no volante. Será que era a polícia? Será que era outra facção? No fim não era nada, mas aquele medo ficou gravado na minha pele. Quando entreguei o envelope, o borracheiro não falou nada, só pegou, olhou nos meus olhos e deu dois toques no ombro. Era o sinal, eu tinha passado no primeiro teste. A partir dali, eu já não era mais o cara da oficina. Eu era o cara do Leandro. E é aí que começa a parte que quase ninguém entende. O PCC não te abraça com armas e gritos. Ele te acolhe como se fosse família. Te dá dinheiro, te dá propósito, te dá até orgulho. Mas cada passo que você dá é como pisar mais fundo na areia movediça. Você não percebe que tá afundando até ficar impossível de sair. Agora eu me pergunto, será que se eu tivesse dito não naquele dia, minha vida teria sido diferente? Ou será que de alguma forma eu já estava destinado a seguir esse caminho? Depois daquela entrega na borracharia, o Leandro começou a me chamar com mais frequência. Não era todo dia, mas sempre que vinha, eu sabia que a parada ia ser séria. E foi numa dessas que ele apareceu na porta da minha casa, sem avisar, num carro que eu nunca tinha visto. “Bora dar um rolê”, disse ele sem explicar nada. O jeito que falou, seco e firme, não deixava espaço paraa pergunta. Entrei no carro, sentindo aquela mistura de adrenalina e medo. No banco de trás, uma sacola preta. Não perguntei o que tinha lá dentro. No PCC, aprender a não perguntar é regra número um. Rodamos uns 40 minutos até parar numa casa simples, mas com o portão alto e câmera na frente. Entramos e lá estava o doutor, sentado numa mesa com dois caras que eu nunca tinha visto. O clima era pesado, silencioso, como se todo mundo estivesse esperando algo acontecer. O doutor olhou para mim e disse: “Hoje você vai provar que tá com a gente”. Ele abriu a sacola e tirou de dentro uma pistola. Meu estômago virou. Eu nunca tinha pego numa arma daquele jeito. Não, para valer. Fica tranquilo. Você não vai precisar puxar o gatilho ainda. Falou ele, quase como se estivesse lendo minha mente. Mas vai precisar entregar isso pro cara certo. O tal cara certo era um sujeito conhecido no bairro, mas que andava devendo pros caras há meses. O recado era simples. Ou ele quitava ou sumia. E eu, que até pouco tempo atrás vendia filtro de óleo e kit de corrente, agora ia ser o portador de uma mensagem que poderia acabar com a vida de alguém. No caminho, o Leandro me explicou o que estava acontecendo. Aquele homem tinha feito negócios com o PCC, mas depois tentou cortar laços e agir por conta própria. Isso era traição, e traição ali não tinha perdão. Quando cheguei na oficina dele, a minha mão tremia tanto que eu quase derrubei a arma no chão. Falei o que precisava falar. sem olhar muito nos olhos dele, ele não respondeu nada, só deu um sorriso amarelo, como quem já sabe que o destino tá selado. Voltei para casa com o coração disparado. Passei a noite inteira acordado pensando no que tinha feito. Eu não tinha matado ninguém, mas sabia que, de certa forma, tinha puxado o gatilho de um jeito indireto. A minha prova de lealdade estava dada. O mais estranho foi o que veio depois. No outro dia, o Leandro me chamou para uma churrascada numa chácara. Muita comida, bebida, risada e todo mundo me tratando como se eu fosse parte da família. Era como se aquele gesto que me atormentava fosse motivo de orgulho para eles. Eu entendi ali que o PCC não te prende só pelo medo, ele te prende pelo pertencimento. Eles te fazem sentir importante, necessário, até amado, mas é um amor concorrente no pescoço. E mesmo com toda a atenção que aquilo gerou em mim, uma parte de mim gostou da sensação de respeito que eu estava recebendo. E isso hoje é o que mais me assusta. Depois da tal churrascada, eu achei que as coisas iam esfriar. Mas no mundo deles, quando você prova que é útil, as portas, ou melhor, as missões se abrem rápido. Foi numa terça-feira de manhã que o Leandro me ligou. É hoje que você vai ver o jogo de verdade, disse ele sem rodeios. Eu sabia que essa frase significava atravessar uma linha da qual não tinha mais volta. O ponto de encontro era um galpão abandonado na zona leste, perto da linha do trem. Quando cheguei, tinha três carros estacionados e uns seis caras armados, todos com cara de poucos amigos. O doutor também estava lá, mas dessa vez, sério e sem sorrisos, ele abriu o mapa em cima de uma mesa improvisada. “Esse é o alvo”, disse, apontando para um depósito de mercadorias. Muita coisa entra e sai dali sem nota. Nosso interesse é o que tá no fundo. No fundo, segundo ele, havia um carregamento especial que tinha chegado escondido dentro de um container de eletrodomésticos. Não falaram o que era, mas pelos olhares dava para sentir que não era coisa pequena. Minha função era dirigir uma das vans. Eu não ia participar da entrada armada, mas ia ser responsável por tirar o carregamento de lá e levar até um outro ponto seguro, simples no papel, mas eu sabia que se algo desse errado, eu seria tão culpado quanto qualquer um que estivesse apontando a arma. Na hora marcada, tudo aconteceu muito rápido. O grupo entrou, renderam dois vigilantes e em menos de 5 minutos o tal carregamento estava na minha vão. Um dos caras veio junto para garantir que eu não ia dar uma de herói. O caminho até o destino parecia durar horas. O cara ao meu lado não tirava a mão da pistola. Lá fora, a cidade seguia no seu ritmo, gente indo pro trabalho, ônibus lotados, crianças indo pra escola e eu dirigindo com o peso na consciência que quase me sufocava. Quando chegamos, descarregaram as caixas e eu vi um detalhe que me gelou. Cada uma tinha uma marcação com o código e um símbolo que eu já tinha visto em reportagens sobre apreensões internacionais. Era droga pura, escondida no meio de mercadoria importada. O doutor me deu um tapinha no ombro. trabalhou bem. Eu não sabia se me sentia aliviado por ter terminado sem problemas ou enojado por saber que tinha ajudado a espalhar veneno pelas ruas. Mas uma coisa era certa, naquele dia eu tinha cruzado a linha e o pior, eles sabiam disso. E uma vez que você cruza, não tem como voltar. Depois da primeira missão, minha vida nunca mais voltou ao que era antes. O doutor começou a me chamar para reuniões diferentes. Nada de galpões sujos ou armas amostra. Agora o cenário era outro. Um dia me levou a um restaurante caro, daqueles que você só vê político e empresário entrando. Eu estava com uma camisa social emprestada e tentando parecer que pertencia à aquele lugar. Na mesa já estavam sentados três homens engravatados e uma mulher de uns 50 anos com um olhar calculista. O doutor me apresentou como um parceiro que resolve problemas. Não falaram diretamente de drogas, armas ou nada ilegal. O assunto era sempre sobre garantir o fluxo ou facilitar os negócios, mas nas entrelinhas eu percebia o peso das palavras. Foi ali que caiu a ficha. O PCC não controlava só viela e boca de fumo. Eles tinham entrada em gabinetes, empresas e até órgãos públicos. Aquelas pessoas na mesa não eram soldados ou chefes de rua, eram políticos, donos de empresas de transporte, representantes de ONGs e até um coronel reformado. O jogo era mais sujo e mais inteligente do que eu imaginava. Enquanto os noticiários mostravam a violência nas periferias, o verdadeiro poder se construía na base de favores, propinas e influência. O PCC estava se infiltrando onde a polícia não podia atirar, dentro do sistema. Naquele mesmo dia, vi com meus próprios olhos um vereador prometer resolver problemas em licitações para empresas ligadas ao grupo. O pagamento não era só dinheiro. Em troca, o PCC garantia segurança em áreas de interesse e apoio nas campanhas eleitorais. Quando saímos do restaurante, perguntei ao doutor: “Você confia nesses caras?” Ele riu e disse: “Não é sobre confiar, é sobre precisar. Eles precisam da gente tanto quanto a gente precisa deles. Foi aí que entendi que dentro dessa teia ninguém é totalmente inocente e que para o PCC território não é só geográfico, é político, econômico e social. E a parte mais perigosa, tudo isso acontecia à luz do dia, sem disparar um tiro, sem levantar suspeitas, pelo menos para quem não sabia onde olhar. Quanto mais eu subia nessa escada invisível, mais percebia que cada degrau custava caro. E não falo só de dinheiro, era a minha alma que estava sendo vendida em parcelas. Depois daquele jantar com políticos e empresários, comecei a receber ordens mais sutis. Não era mais levar um pacote ou vigiar um ponto. Agora era garantir que fulano consiga fechar um contrato ou fazer uma ligação para resolver um problema na prefeitura. Parecia simples, mas no fundo eu sabia que cada favor desses estava cimentando um império. O problema é que favores têm retorno e o retorno no mundo deles não é só agradecimento, é compromisso vitalício. Eu comecei a me sentir preso em uma teia com fios tão bem amarrados que mesmo que eu quisesse sair e acabar enforcado. Aos poucos percebi que meu nome estava sendo usado em documentos, contratos e até em empresas que eu nunca pisei. Era só um laranja mais sofisticado. O PCC tinha empresas registradas em meu nome, negócios limpos que lavavam um dinheiro tão sujo que nem a chuva mais forte poderia limpar. O mais pesado era o silêncio. Eu tinha que fingir que não via nada, que não sabia de nada. Cada vez que alguém me perguntava de onde vem o dinheiro, eu tinha que inventar uma resposta. E a mentira, quando é repetida muitas vezes, começa a parecer verdade, mas dentro de mim ela me corroía. As noites eram as piores. Eu acordava suando, sonhando com as pessoas que tinham sumido do mapa depois de contrariar o grupo. Não era sempre que usavam violência, mas quando usavam ninguém escapava. Eu sabia que estava andando sobre um chão minado. Bastava um passo errado, uma palavra dita no ouvido errado e eu viraria estatística. Mas ao mesmo tempo sabia que quanto mais eu permanecia, mais difícil ficava sair. Foi nessa fase que percebi que o verdadeiro preço do silêncio não era pago em dinheiro, era pago em pedaços de quem eu era. Eu já tinha visto e ouvido muita coisa, mas nada me preparou para a sensação de estar na mira, não como um alvo distante, mas como alguém que está a centímetros do disparo. Aconteceu numa terça-feira, fim de tarde. estava saindo da concessionária como qualquer outro dia. O céu de São Paulo estava pesado, ameaçando chover e o ar carregava aquele cheiro metálico que antecede a tempestade. Eu já tinha fechado o caixa, desligado as luzes e estava com a chave na mão quando vi um carro preto estacionar na calçada oposta. Não reconhecia a placa, mas reconhecia o estilo. Vidros escurecidos, além do permitido, rodas discretas, nada que chamasse atenção de longe. Mas o tipo de carro que no nosso mundo significa visita importante ou problema sério. Do banco traseiro, um homem desceu devagar. Ele usava uma jaqueta de couro simples, mas a postura entregava o peso que carregava. Eu já tinha visto aquele rosto antes num churrasco informal com outros empresários ligados ao grupo. Ele não precisou se apresentar, só veio andando até mim calmamente, como quem não tem pressa, e falou: “Tá fazendo um bom trabalho, viu? Mas cuidado para não se perder no caminho. Foi só isso. Um comentário simples, sem tom de ameaça explícita. Mas o jeito que ele falou como se estivesse medindo minhas reações, como se soubesse exatamente o que passava na minha cabeça. E eu sabia que ele sabia. Naquele momento, senti um arrepio subir pela espinha. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu tentei manter a expressão neutra. Respondi com o aceno de cabeça e um pode deixar. Ele sorriu de um jeito que não era de amizade, entrou no carro e foi embora. Mas a mensagem estava dada. Eles estavam me observando, sabiam onde eu estava, com quem eu falava e e provavelmente sabiam o que eu pensava. Naquela noite em casa, fiquei encarando o teto por horas. Lembrei de histórias de outros caras que tentaram sair. Nenhuma delas tinha final feliz. Alguns sumiram de repente, outros foram encontrados em lugares onde ninguém ia querer ser encontrado. O PCC não tinha necessidade de provar força com tiros ou sangue toda hora. Às vezes a ameaça silenciosa era mais eficiente. Eu comecei a perceber que minha vida estava se moldando ao redor do medo. Eu evitava certos lugares, não atendia ligações de números desconhecidos. Até com minha família passei a medir as palavras. O silêncio se tornou uma segunda pele. E no fundo, uma pergunta me perseguia. Será que já era tarde demais para sair? Eu nunca tinha pisado em Brasília. Já tinha visto aquele céu aberto pela TV. as cúpulas, as linhas retas, o concreto de Niemer que parece flutuar, mas estar lá descendo do avião com uma mala pequena e um telefone novo no bolso era outra coisa. Parecia que eu estava entrando dentro de uma fotografia limpa demais para aquilo que eu carregava por dentro. A cidade cheirava a verniz, os sorrisos, a protocolo. No meu e-mail descartável, o itinerário vinha com código, reunião de alinhamento. Para quem viveu rua, cadeia, galpão, ouvir alinhamento é quase engraçado. Mas o engraçado morre na garganta quando você lembra com quem está lidando. Mandaram-me direto para um hotel que tinha mais vidro do que parede. Na recepção, ninguém pergunta nada. O cartão do quarto já estava pago e meu nome não era o meu. No elevador, homens de terno falando em voz baixa, cheiros caros, risadas contidas. A sensação de deslocamento era um soco. Eu, que aprendi a sobreviver lendo o olhar de soldado, agora tinha que decifrar os códigos de quem manda sem levantar a voz. O crime de Brasília não tem pistola no cós, tem agenda. A primeira noite foi só espera. Eu não comi, não consegui. Fiquei na varanda do quarto vendo as luzes distantes e pensando em como a cidade é construída para parecer eterna. Nada é por acaso. Vias largas, prédios baixos, horizonte limpo, aquele silêncio que faz qualquer grito desaparecer. Pensei no recado de São Paulo, na visita educada na porta da concessionária e no quanto eu já tinha ido longe demais para achar que poderia parar ali. No dia seguinte, encontrei o intermediário no café do hotel. Nem velho, nem novo. Terno azul, gravata estreita, um alfinete com brasão genérico, sem apresentação, sem aperto de mão demorado. Ele sentou, pediu um expresso e jogou duas frases como quem confere previsão do tempo. Aqui ninguém inventa moda e aqui ninguém fala nome. Eu assenti. Ele abriu um tablet, mostrou um cronograma com horários e andares, como se fosse uma conferência qualquer, encontro com consultores, almoço institucional, passagem rápida por um gabinete amigo e uma reunião final com Fundação Parceira. Eu conhecia esses rótulos. Eram tapetes sobre poças antigas. No carro, a caminho da primeira parada, ele falou em sussurros: “Você não está aqui como braço de ninguém. está como parceiro que entrega resultado. Fique com seu português curto. Responda quando perguntarem, acene quando concordar. E lembre, a pauta é estabilidade. Estabilidade bonita a palavra. Na quebrada, estabilidade significava não ter bala voando. Ali significava orçamento. A sala da primeira reunião parecia consultório caro, poltronas macias, água em garrafa de vidro, cheiro de madeira, três homens e uma mulher, nenhum nome, doutor, diretor, assessora. Fizeram perguntas sobre capilaridade, previsibilidade de fluxo, risco reputacional. Eu respondia com frases curtas, como me mandaram. Eles sorriam quando eu dizia controle de perdas. A mulher anotava, cruzava pernas, mirava minhas mãos como se conseguisse medir a minha história pelos nós dos dedos. Em determinado momento, um deles falou: “O importante é que não haja ruído. Precisamos de previsões sem sustos.” Previsão sem susto. O PCC entendeu isso antes de todo mundo. O que assusta o poder não é crime, é barulho. No almoço institucional, num restaurante escondido numa asa residencial, eu vi a coreografia completa. Chegam em duplas, falam de tudo menos do assunto, trocam piadas sobre futebol, lembram de uma cidade do interior, citam um padre conhecido. Entre um prato e outro sobram sobras na mesa e faltam palavras diretas. A conta nunca chega para a mesa, já estava na casa. E no final, um dos presentes, com voz mansa, pergunta: “Se chover semana que vem, ainda mantém a programação?” O intermediário responde: “Se chover, molha menos, mas não desmarca”. A passagem pelo gabinete amigo foi um desfile de símbolos, fotos emolduradas, diplomas, bandeiras, uma miniatura do prédio do congresso. O dono da sala entrou sem pressa, cabelo escovado, sorriso de emissora, olhar que nunca pousa em lugar nenhum. Me mediu num segundo, estendeu a mão, chamou-me de empreendedor e disse que o país precisa de gente como você, que faz, que arrisca. Eu sabia reconhecer quando estavam me vendendo um espelho. Ainda assim, assenti. Ele falou de programas, parcerias, responsabilidade social e no fim soltou a frase que não sai da minha cabeça. A pauta da ordem vence a pauta do caos. Quem oferecer ordem vence. E vocês têm mostrado ordem. Vocês não sei se ele me incluía, me descartava ou apenas me empurrava para uma prateleira que seria útil depois. O intermediário respondeu com um elogio técnico desses que não comprometem. Saímos de lá com dois cartões sem nome, apenas um número. Brasília adora número. A reunião final foi a mais silenciosa. Uma casa discreta num bairro onde poste não faz sombra. Portão que abre sozinho. Cachorro que não late, câmara que não pisca. Salão com poucos móveis, uma mesa longa, duas pessoas do lado de lá. Uma delas falou o tempo todo, a outra só observou. Nada de tablet, nada de papel, só frases que pareciam ter sido treinadas. As pontes serão mantidas, os desvios serão contidos na origem, o barulho será tratado como exceção. Em certo momento, a que observava interrompeu. Preciso de garantia. O intermediário apontou para mim com o queixo, sem encostar o dedo. Está aqui. Eu entendi. Eu era garantia. Meu rosto, minha história, minhas cicatrizes, tudo aquilo estava sendo usado como moeda de confiança. Eu representava o lado operacional domesticado. Eu era o selo de autenticidade do que eles chamavam de ordem. Saí de lá com o frio novo, não o frio da arma apontada que a gente aprende a reconhecer. Um frio mais fino que corre por dentro do osso. O entendimento de que naquela mesa ninguém precisava de violência para me esmagar. Uma assinatura. um parecer, um despacho, e eu virava pó. A cidade foi feita para isso, para esconder na luz. Na volta ao hotel, o intermediário quebrou o silêncio. Você vai dormir hoje e esquecer metade. A outra metade você guarda, mas não usa. Quem usa cai. Eu perguntei. E quem cala? Ele sorriu sem humor. Sobe. De madrugada. Não dormi. Ficava lembrando dos jantares na quebrada, dos abraços de quem jurava lealdade com a boca cheia de cerveja e comparando com os acenos elegantes que vi em Brasília. A diferença não era de moral, era de método. Lá embaixo a gente morria por deslize. Aqui em cima se morre por obsolescência. Em ambos, o silêncio é prêmio e castigo. Quando amanheceu, recebi no celular novo uma mensagem curta. Checkout 10 horas. Retorno mantido, contato em 30 dias. Fui até a recepção, entreguei o cartão do quarto e desci as escadas de vidro, como quem anda sobre lago fino. Na porta giratória, um homem que eu nunca tinha visto segurou um segundo e deixou um envelope no bolso do meu palitó barato. Dentro, um crachá sem nome, com o código e a palavra visitante. Brasília tem o talento de transformar até ameaça em cortesia. no aeroporto. Olhando a pista, eu soube aquele encontro não foi sobre mim, foi sobre dizer, sem dizer: “Estamos no mesmo barco e o rio é nosso.” Eles queriam que eu visse, queriam que eu sentisse o peso do que chamam de estabilidade. Porque quem sente obedece, quem obedece pertence e quem pertence sustenta. No voo de volta, a cabeça latejava, não conseguia ouvir as instruções da comissária. Na janela, as nuvens passavam como páginas rasgadas. Pus a mão no bolso, senti o crachá e o papel do roteiro da véspera com horários e andares amassados, mas intactos. Pensei em rasgar. Pensei em jogar no lixo do avião. Não fiz porque parte de mim já sabia que um dia aquilo viraria prova, outro dia punição. E se eu errasse o tempo, epitáfio. Quando pousei em São Paulo, o celular tocou antes mesmo de acender o aviso do cinto. Era o Leandro. E aí? Tudo certo? Viu como é? Não dói. Não respondi porque doía. Doía diferente, mas doía. Ele riu e encerrou com a frase que selou aquele capítulo. Bem-vindo ao andar de cima. Aqui a gente só cai quando resolve falar alto. Eu desliguei, guardei o telefone e caminhei pelo saguão como mais um. Mas a verdade é que naquele dia eu trouxe Brasília comigo. Não a cidade dos cartões postais. A Brasília que vive de compromissos que nunca aparecem no Diário Oficial. A Brasília que ensina o crime a usar gravata e o estado a usar silêncio. E pela primeira vez eu entendi que o horror não é só o que a gente vê no beco, é o que se sussuza no carpete. É o que se decide sem ata, é o que transforma a gente em peça de um jogo que, no fim sempre cobra o movimento errado. Voltei de Brasília com o corpo inteiro, mas com a mente dividida. De um lado, a sensação de que eu tinha atravessado uma fronteira invisível. De outro, a certeza de que não havia volta. Aquele crachá sem nome que recebi não era só um pedaço de plástico, era um selo. Significava que eu tinha sido aceito em um círculo onde o crime e o poder se cumprimentam sem vergonha, mas com muito protocolo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Na concessionária, os funcionários notaram meu silêncio. Eu fengia estar concentrado nas planilhas, mas a verdade é que eu revivia cada diálogo, cada olhar. O jeito como um dos diretores ajeitou o palitó antes de dizer que ordem é a melhor moeda de troca ficou gravado. Ali entendi que eles não falavam em manter a lei, falavam em manter o controle, seja qual for o custo. Uma semana depois, Leandro me ligou. Temos um novo pacote chegando. Não vai passar por você, mas quero que saiba que está dentro. Dentro? A palavra me soou como uma algema de veludo. Eu não estava mais no PCC que conheci anos atrás, com motos na porta e olheiros na esquina. Agora era outro jogo, menos sangue à vista, mas muito mais veneno no ar. Comecei a perceber que minha empresa estava sendo usada como fachada mais do que eu imaginava. Não eram só carros vendidos à vista ou financiamentos milagrosamente aprovados. Era o uso estratégico do meu CNPJ para contratos institucionais e compras coletivas que nunca chegavam ao destino final. Quando questionei, Leandro foi direto. É assim que mantenho o que viu em Brasília, sem ruído? Ou seja, minha função não era só lucrar, era sustentar o silêncio. Com o tempo, descobri que havia outros, como eu, espalhados pelo país, empresários, donos de transportadoras, de postos de combustível, até redes de farmácia, todos com o mesmo perfil, negócios limpos por fora, engrenagens sujas por dentro e todos com uma regra: nunca se encontrar oficialmente. Quem precisava se ver fazia como em Brasília, encontros discretos, conversas cifradas e um fio de voz que nunca subia de tom. O mais perturbador foi quando percebi que algumas dessas empresas também faziam negócios diretos com órgãos do governo, licitações, parcerias sociais, eventos patrocinados. O PCC não precisava mais de fuzis na mão para conquistar território. Bastava ter os contratos certos, a papelada em ordem e o apoio velado de quem veste terno. Numa noite, sentado na varanda de casa, pensei em sair, largar tudo, mas a lembrança da voz calma de um dos políticos me parou. Quem fala alto demais cai. Eu sabia que, no meu caso, não seria só uma queda, seria um sumisso. Ainda assim, algo em mim começou a se revoltar. Não era mais apenas o medo da cadeia ou da morte. Era raiva de perceber que a engrenagem continuava girando não por causa de pistolas, mas por causa de reuniões com café gourmet e promessas com aperto de mão. O PCC que eu conheci nas vielas agora estava nas atas e nas planilhas, e ninguém ousava chamar pelo nome. Foi nesse estado de inquietação que recebi outro convite. Não era para Brasília dessa vez, era para Lisboa. E a frase de Leandro me deixou gelado. O que é invisível aqui? Vai ser intocável lá. Eu entendi de imediato. A expansão estava em curso. O jogo ia atravessar o oceano e mais uma vez eu estava dentro. O avião pousou em Lisboa sob um céu cinza, carregado, como se a própria cidade pressentisse o que estava para acontecer. Eu nunca tinha pisado em Portugal, mas aquela viagem não era sobre turismo, vinho ou fado, era sobre negócios, os novos negócios do PCC. E o mais inquietante, nada de fuzis. Nada de bocas de fumo, tudo limpo, pelo menos por fora. Quem me recebeu foi um homem chamado Sérgio, brasileiro, sutaque já misturado com o português europeu, me levou direto para um café na zona de Belém. De lá dava para ver turistas tirando fotos da torre e famílias passeando. Mas Sérgio falava baixo, olhando ao redor a cada frase. Aqui é mais fácil. Não é como no Brasil. Ninguém espera que o jogo já esteja rolando. A jogada era simples e ao mesmo tempo, genial. Compras silenciosas de comércios legítimos, padarias, restaurantes, pequenas redes de lojas. Alguns eram negócios à beira da falência, outros davam lucro, mas todos se tornavam parte de uma teia invisível. Não havia bandeira, não havia marca do crime, só recibos, notas fiscais e contratos assinados no cartório. Fui apresentado a dois empresários locais, portugueses nativos. Um deles tinha uma rede de lavanderias que, segundo Sérgio, era perfeita para ajustar números. O outro controlava um armazém na periferia de Lisboa, ponto estratégico para a distribuição de mercadorias que vinham de fora. Mercadorias que nem sempre eram o que o papel dizia. Aqui, amigo, a guerra é no papel timbrado”, disse Sérgio com um sorriso envieszado. Enquanto no Brasil o PCC ainda precisava manter o domínio físico dos territórios, aqui o domínio era financeiro. E o mais assustador, a maior parte dos lucros era investida de volta no país, em negócios ainda mais sólidos. Isso criava uma rede quase impossível de quebrar, afinal, como fechar uma padaria que gera emprego, paga impostos e não tem ficha suja. À noite, fomos a uma reunião num escritório no centro. Nada de becos escuros ou depósitos. Um prédio comercial moderno, ar condicionado e café de cápsula. Ali estavam três brasileiros e dois portugueses, discutindo números e prazos, como qualquer grupo de investidores. Só que eu sabia que o capital inicial não vinha de bancos, vinha de caixas pretas do outro lado do Atlântico. Aos poucos, percebi que esse modelo de expansão não tinha volta. Era mais seguro, mais lucrativo e mais difícil de rastrear. Portugal era porta de entrada para outros países da Europa e com o passaporte europeu de alguns laranjas, o PCC poderia operar livremente em diversos territórios sem levantar suspeitas. Mas o que me incomodava de verdade era a frieza de tudo. Não havia adrenalina, não havia tensão de missão cumprida como no Brasil. Aqui era um crime sem rosto, sem cheiro de pólvora, só números, contratos e apertos de mão. E isso, de certa forma, era ainda mais perigoso, porque ninguém estava olhando. Quando voltei para o hotel, fiquei na varanda observando as luzes da cidade, refletindo no Tejo. Pensei nas vielas onde comecei e no luxo discreto onde estava agora. O PCC tinha se reinventado e no silêncio de Lisboa entendi que talvez fosse impossível detê-lo. Lisboa amanheceu com o sol tímido, refletindo nas águas tranquilas do Tejo. Eu, sentado no banco de um miradouro, olhava a cidade como quem tenta decifrar um enigma. Naquele silêncio aparente, entendi que o PCC tinha encontrado algo mais valioso que armas ou drogas, invisibilidade. E essa invisibilidade era a sua arma mais letal. Ao longo da minha vida, vi o crime crescer, mudar e se adaptar. No Brasil, a guerra era feita com sangue, sirenes e manchetes. Aqui, a guerra era silenciosa, travada nas salas de reunião, nas assinaturas de contrato, nas transferências bancárias internacionais. Não havia estampido de fuzil, mas o impacto era ainda mais devastador, porque corroía a economia, a política e a confiança de um país inteiro, sem que quase ninguém percebesse. O modelo era simples, infiltrar-se na economia legal, comprar empresas, gerar empregos, pagar impostos e e por baixo, movimentar o dinheiro sujo, ampliar o alcance e garantir influência sobre autoridades e empresários. Era uma teia que prendia gente de terno e gravata tanto quanto já prendeu moleques de chinelo na favela. E o pior é que nesse jogo não há fronteiras. Hoje Portugal, amanhã Espanha, depois França. Com a União Europeia aberta, o PCC pode se mover como um investidor global. Não é mais sobre controlar uma esquina, mas sobre controlar setores inteiros de comércio e logística. Olhei ao redor e vi turistas tirando fotos, famílias passeando, jovens indo trabalhar. Ninguém imaginava que atrás de algumas fachadas circulava o capital de uma das facções mais perigosas do planeta. Essa era a nova face do crime organizado e talvez a mais difícil de combater. No fundo, senti um peso no peito, não apenas pelo que vivi, mas por saber que, mesmo arrependido, fiz parte da engrenagem que agora parecia imparável. Eu saí, mas o sistema segue girando e cada dia que passa, mais raízes ele cria, mais difícil se torna arrancá-lo. Se há algo que aprendi é que o silêncio pode ser mais mortal que o barulho dos tiros e que quando o inimigo se esconde atrás da legalidade, a luta é muito mais complexa. O perigo não está mais na esquina, está na mesa ao lado, no contrato que ninguém leu, no investimento que parece inofensivo. Por isso, quem escuta minha história precisa entender. A mudança só começa quando paramos de fingir que não vemos. O perigo não vai bater a sua porta anunciando sua chegada. Ele já entrou, já se instalou e talvez já esteja controlando o lugar onde você compra o pão, abastece o carro ou trabalha todos os dias. A questão é: vamos continuar fechando os olhos ou finalmente encarar o que está diante de nós? Porque no ritmo em que está, quando acordarmos, pode ser tarde demais. เฮ [Música]
![SIMPLESMENTE FANTÁSTICO! DEMON SLAYER CASTELO INFINITO [SEM SPOILERS]](https://abrindosuamente.com/wp-content/uploads/2025/09/1757695787_maxresdefault.jpg)